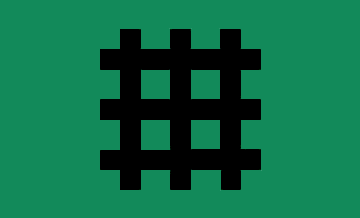A inflação resulta de uma desproporção, em dado momento, entre a renda
produtiva e a renda improdutiva.
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Em exposição anterior que tive a honra de fazer
perante o Senado, procurei caracterizar a posição do trabalhismo, em face dos problemas
econômicos fundamentais da coletividade, indicando, em termos amplos e genéricos, quais
deveriam ser os seus objetivos e a sua política.
Sempre que me refiro a trabalhismo, não aludo a partidos trabalhistas, mais ao ideal
trabalhista, que deveria ser o motivo de ação desses partidos.
Prosseguindo, hoje, nessas considerações, e procurando demonstrar ou justificar, ainda que
superficialmente, esse objetivos, creio que poderia iniciar esta explanação com uma observação
que, desde Aristóteles, constitui o lugar comum talvez mais glosado por sociólogos, economistas e
filósofos que se ocupam da sociedade, dos fatos e das relações que nelas se desenvolvem.
Não me animaria a dizer que o homem é um animal essencialmente social; mas poder-se-ia
relembrar, com Aristóteles, a razão pela qual o homem vive em sociedade, razão que reside,
precisamente, na circunstância de não ser autossuficiente. Afirmou o filósofo que aquele que
pudesse prescindir do convívio e do comércio dos mais homens, ou porque de nada precisasse, ou
porque se bastasse a si mesmo, não pertenceria à coletividade humana: ou seria um bruto ou seria
um Deus.
A Sociedade segundo o Trabalhismo
Para o trabalhismo a sociedade humana deve ser a organização da cooperação e da
solidariedade entre os indivíduos que a constituem. O que cumpre é que estabeleçam os termos e
condições dessa cooperação para que se eliminem todas as formas de exploração e se assegure o
que denominamos “justiça social”.
A forma individual da cooperação é o trabalho, isto é, uma atividade que possa ser útil aos
demais e que, em consequência, encontre na atividade destes uma correspondência de benefícios. A
cooperação, base da sociedade, se caracteriza, portanto, por um intercâmbio de trabalho ou de
serviços.
Tomo sempre a palavra “trabalho” no sentido de uma atividade econômica e socialmente
útil, de uma atividade que produza ou contribua para produzir bens e serviços que contenham
alguma utilidade para os demais membros da coletividade e possam, por isso mesmo, ser
permutados por bens e serviços oriundos de atividade da mesma natureza ou de outras formas de
trabalho.
O agiota, o açambarcador, o monopolista, o especulador exercem atividades, mas não
poderíamos considerá-las e classificá-las como formas de trabalho, porque “trabalho” por definição,
é uma atividade socialmente útil.
Por outro lado, trabalho não é apenas o trabalho físico. Não é apenas uma atividade em que
se emprega predominantemente a energia muscular, mas qualquer gênero de atividade de que possa
resultar um benefício econômico, não apenas para quem a exerce, mas também para os demais
membros da coletividade.
Sabemos que, quanto mais sensos e evoluídos os agrupamentos humanos, maior é a divisão
do trabalho e a diferenciação das funções econômicas que neles se processam. Nas sociedades
modernas, esse intercâmbio, justamente em razão da crescente divisão e especialização do trabalho,
assume uma feição microtônica (se me posso exprimir assim), pois no atual sistema de produção,
centenas senão milhares de pessoas participam, por vezes, da criação de uma única utilidade, de
modo que a contribuição individual é infinitesimal na unidade, distribuindo-se por um grande
número delas.
Isso significa que, à medida que se opera a divisão do trabalho, mais complexa se torna a
trama das relações e dos vínculos de dependência econômica entre os indivíduos. Os lermos do
intercâmbio perdem as características individuais para serem regidos pelas leis econômicas dos
fenômenos de massa.
Se a vida em sociedade se caracteriza como um intercâmbio de trabalho ou de serviços,
parece que se poderia assentar, como princípio básico da cooperação e da solidariedade a
necessidade de que esse intercâmbio se realize um termos de uma equivalência de valores. Onde
alguns pudessem beneficiar-se do trabalho de outros sem uma prestação equivalente de trabalho,
não haveria eqüidade e a sociedade deixaria, então, de ser a organização da cooperação e da
solidariedade para se transformar na organização da exploração e da injustiça.
Onde há ganhos sem trabalho correspondente, isto é, sem a prestação de serviços que os
justifiquem, na base de uma reciprocidade de valores, há parasitismo e exploração social.
Nesse grande mercado de serviços que é a sociedade humana, quem de útil nada produz,
nada pode ter para oferecer e, portanto para permutar. Logo, todo ganho obtido nessas condições
poderá representar uma apropriação do valor do trabalho alheio.
Os ganhos e remunerações devem ser a contrapartida de uma atividade socialmente útil e
devem estar em proporção à utilidade que dela resultou para os demais membros da coletividade.
Esta é a tese fundamental, que está para o trabalhismo como o postulado de Euclides está
para a geometria euclidiana.
Eis por que poderíamos reduzir a três os objetivos finais do trabalhismo: primeiro,
organizar verdadeiramente a sociedade, na base da cooperação e da solidariedade; segundo, em
consequência, todas as formas de exploração econômica e social; terceiros, ser a cada um os meios
de imprimir ao seu trabalho o maior coeficiente de utilidade social, tornando-se credor da
remuneração correspondente.
Duas ordens de Atividades: Produtiva e Improdutiva
Dentro dessa ordem de considerações, poderíamos, de um modo geral, dividir a sociedade
em dois grandes grupos: o grupo dos que cooperam com trabalho ou atividade socialmente útil, que
denominaram o grupo A; e o grupo dos que não contribuem com atividade dessa natureza, ou
porque não trabalham e são simplesmente parasitas, ou porque a atividade que exercem não tem
utilidade social, não ocorre, nem direta nem indiretamente, para aumentar as condições e os meios
de bem-estar. Denominaremos a esse grupo, o grupo B. Dele ficam naturalmente excluídos os que,
por este ou aquele motivo, não podem trabalhar.
O grupo A poderia ser designado como produtivo; o grupo B, como grupo improdutivo.
Sentido das palavras “Produtivo” e “Improdutivo”.
Desejo esclarecer e caracterizar o sentido em que são tomadas, para efeito dessa
classificação, as palavras “produtivo” e “improdutivo”, “produtividade”, e “improdutividade”,
porque têm elas significações diversas, na linguagem dos economistas.
Para os fisiocratas, por exemplo, “produtivo” era apenas o trabalho aplicado à terra.
Entendiam que o trabalho de um artesão cobria apenas o custo da produção e o salário de sua
subsistência, ao passo que o trabalho do agricultor cobria o custo da produção, o salário de sua
subsistência, produzido ainda um “excedente”, que era o rendimento líquido do proprietário da
terra. Consideravam a indústria e o comércio em certo sentido, como atividades improdutivas.
Tomou-se célebre a máxima de Turgot: “Só o agricultor produz algo mais de que o salário do seu
trabalho. E, portanto, a única fonte de riqueza”.
Para Adam Smith a produtividade do trabalho residia na circunstância de incorporar à
matéria sobre que se exerce um valor adicional, transformando-a em mercadoria. Assim, o artesão,
na manufatura que produz, acrescenta ao valor dos materiais o valor do seu salário e o lucro do
patrão. O trabalho, por essa forma, como que se fixa e se materializa em uma mercadoria de certa
duração, que poderá ser vendida, pondo em movimento outra quantidade de trabalho equivalente.
Segundo a tese de Smith, portanto, a atividade dos trabalhadores empregados em uma fábrica de
batom seria produtiva, ao passo que o trabalho de um empregado doméstico ou de um médico seria
improdutivo.
Outros economistas clássicos, como Stuart Mill, ampliam o conceito de trabalho produtivo,
entendendo como tal o trabalho que se aplica em criar utilidades permanentes, que se incorporem a
seres animados ou inanimados.
Em geral, para os economistas clássicos, produtivo é o trabalho que contribui, direta ou
indiretamente, para a criação de riqueza material. O trabalho empregado para salvar um amigo, diz
Mill, não é produtivo, a não ser que ser trate de um trabalhador que produza mais do que consome.
Analisando essas concepções, observava Marx que, segundo a ideia capitalista, trabalho
produtivo é o trabalho assalariado que produz a mais valia, isto é, que além de produzir o valor
correspondente à subsistência do trabalhador ou força do trabalho, produz um excedente, que é o
lucro do capitalista.
Realmente, para o empregador capitalista, o trabalho do operário somente é produtivo
quando produz algo mais do que o valor do próprio salário. Do contrário, não teria interesse em tê-lo ao serviço.
Costuma-se também falar em produtividade do trabalho em outro sentido. Para uma
determinada quantidade e tipo de equipamentos, isto é, de capital, a produção per capita pode
atingir o seu ponto máximo com um determinado volume de ocupação ou número de trabalhadores.
Daí por diante, aumentando-se esse número, poderá haver aumento da produção em valores
absolutos, não, porém, em valores relativos, isto é, a produção per capita diminuirá. Diz-se então
que a produtividade marginal do trabalho decresce, entendendo-se, por produtividade marginal, o
acréscimo de produção resultante da adição de uma unidade de trabalho. A mesma noção de
produtividade física se pode aplicar ao capital. Se nos referirmos ao dinheiro, a produtividade
significará um aumento ou decréscimo de lucro resultante de uma inversão adicional. Esses fatos
são rotulados pelos economistas com o nome de “lei dos rendimentos decrescentes”.
Mas não é um nenhum dos sentidos indicados que estou empregando a palavra
“produtividade”, neste momento. Com a expressão “atividade produtiva” pretendo simplesmente
significar atividade que concorre para a produção de utilidades e serviços destinados a satisfazer
necessidade e desejos humanos e à criação de meios de bem-estar. Creio que se poderia adotar a
fórmula de um economista moderno Gustav Cassel: para que um serviço se possa considerar
econômico ou produtivo, o essencial é que contribua direta ou indiretamente para satisfazer
necessidade humanas.
Nessas condições, a atividade produtiva tanto se pode aplicar à produção de bens de
consumo e uso diretos, como à produção de bens de consumo e uso indiretos, isto é, à criação de
meios instrumentais de produzir.
As atividades empregadas na agricultura, na indústria, nos transportes são essencialmente
produtivas. A intermediação, nos limites em que se presta um serviço necessário, dentro do atual
sistema de organização econômica, poderá considerar-se indiretamente produtiva. Deixará de sê-lo
todas as vezes em que houver excesso e ultrapassar as exigências da circulação ou esteja em
oposição aos interesses dos produtores e consumidores. As atividades de mera especulação deverão
ser consideradas absolutamente improdutivas.
As atividades compreendidas no conceito de serviço público poderão ser direta ou
indiretamente produtivas na justa medida em que forem reclamadas pelas necessidades imperativas
da organização política e administrativa da coletividade, condicionando, por essa forma, a
possibilidade e a segurança das demais atividades ou contribuindo para a sua maior produtividade.
Fora dos limites dessas exigências, serão atividades improdutivas. Todo excesso de burocracia é
absolutamente improdutivo.
O critério da produtividade nem sempre é um critério absoluto, mas relativo, nem é um
critério abstrato, mas concreto, devendo-se decidir, em face de condições e circunstâncias
particulares, se determinada forma de ocupação é produtiva ou improdutiva. Trata-se simplesmente
de um princípio de orientação.
Há atividades essencialmente improdutivas mas de que nem sempre podemos Tais são, por
exemplo, as que se relacionam com a defesa militar do país.
Caracterizado por essa forma o sentido em que estou empregando a palavra produtivo
distinguir, no grupo A, grupo produtivo, aqueles cujas remunerações são inferiores ao valor social
do trabalho produzido e neste caso está a grande massa dos assalariados; e aqueles cujas
remunerações ultrapassam esse valor e nesse caso está o grupo capitalista. Na parte excedente, essas
remunerações representarão ganhos sem causa, um enriquecimento indevido e, portanto, uma
injustiça no sistema da distribuição.
Há porém, um fato fundamental: tanto os componentes do grupo A, como do Grupo B
consomem bens e serviços que são o resultado do trabalho produtivo. Se consomem, é porque
dispõem de poder aquisitivo. Ora, possuir meios de aquisição sem ter prestado um trabalho
correspondente ao montante desses meios, é o que precisamente caracteriza uma forma de
exploração. Poderíamos, pois, formular este princípio: o coeficiente de exploração existente em
determinada coletividade é proporcional aos ganhos obtidos improdutivamente. E poderíamos ainda
afirmar como corolário, que o bem-estar, expresso no grau médio de satisfação das necessidades
dos integrantes de uma coletividade, é inversamente proporcional ao coeficiente de exploração
social, isto é, aos ganhos improdutivos.
Consequências da desproporção entre atividades produtivas e improdutivas
Poderia, à primeira vista, parecer que a distinção entre atividades, inversões e ganhos
produtivos e improdutivos tem um caráter meramente acadêmico, tanto que dela não se ocupa a
maioria dos economistas modernos, que se limitam, em geral, a desenvolver a teoria da
produtividade marginal do trabalho, do capital e do dinheiro.
Na realidade, porém, não é assim, pois que a proporção entre essas duas categorias de
ganhos e inversões, tal seja o grau de desenvolvimento técnico-econômico de um país e o nível de
ocupação, tem grande influência nesse mesmo desenvolvimento, no padrão médio de vida, na
distribuição da riqueza produzida e no curso dos processos inflacionários, os quais, como
procuraremos demonstrar, estão em função da forma de composição da renda nacional.
Composição da renda nacional
Todo trabalho ou atividade se traduz, economicamente, por uma forma de remuneração ou
ganho, ordinariamente expressos em moeda. A soma total das remunerações e dos ganhos em um
país é o que constitui e se pode denominar, de um modo simplista, renda nacional.
O estudo da formação, distribuição, composição e aplicação da renda nacional é um dos
capítulos mais importantes da economia.
Não desejo deter-me aqui no exame das diversas maneiras de conceituar a renda nacional,
até porque para isso me faltariam conhecimento. Bastará observar que existem vários critérios para
defini-la e determiná-la. Costuma-se, em geral, considerar a renda nacional sob três aspectos
diferentes: como valor total do resultado ou produto líquido das atividades econômicas em um
determinado período, e teremos então a renda produzida; como valor total das remunerações ou
pagamentos aos fatores da produção, compreendendo, portanto, salários, ordenados, juros,
arrendamentos, lucros, etc. e será então a renda paga; como valor total dos bens e serviços
consumidos, mais as inversões líquidas, e teremos a renda consumida.
Esta é a definição que encontramos no relatório referente à “Estimativa da Renda Nacional
no Brasil”, elaborado por Derksen, chefe da seção de estatística da renda nacional da ONU, com a
colaboração de uma equipe de economistas nacionais.
Ousaria fazer aqui uma observação. Se conceituarmos a renda nacional como some total
das remunerações aos fatores da produção, não sei como poderíamos incluir nesse conceito as
remunerações dos elementos estranhos à produção, isto é, os ganhos que não derivam de uma
atividade produtiva.
Por isso, prefiro definir a renda nacional simplesmente como a soma total das
remunerações ou ganhos, quer se originem de atividades produtivas, quer decorram de atividades
não economicamente produtivas.
Numa coletividade em que todos os ganhos derivassem de atividades produtivas, no
sentido que atribuímos a esta expressão, renda nacional e trabalho seriam expressões correlatas isto
e, a soma monetária que representa a renda nacional seria o equivalente do valor monetário do
trabalho ou dos bens e serviços que são o resultado material desse trabalho. Assim, se se apurasse
que, em 1950, como presumem as estatísticas, a renda nacional, no Brasil, foi de 170 bilhões,
saberíamos que se produziram bens e serviços no valor de 170 bilhões. Na realidade, porém, isso
não acontece, porque nessa cifra da renda nacional estão computados não somente os ganhos
oriundos de atividades produtivas, mas também os derivantes de atividades improdutivas, isto e,
que não contribuíram para a produção de bens e serviços economicamente úteis.
Se o Congresso, por exemplo, decretasse um aumento geral dos vencimentos e salários, a
estatística acusaria um aumento da renda nacional, mas a esse aumento não corresponderia uma
produção adicional de utilidades e serviços.
É importante, por consequência, distinguir entre a parcela da renda nacional oriunda de
atividades produtivas e a parcela oriunda de atividades improdutivas, cumprindo assinalar que nem
sempre uma progressão da renda nacional significa, por isso, um aumento da produção ou do valor
real, dessa renda.
Valor monetário ou nominal e valor real da renda nacional
É preciso, pois, não confundir as variações monetárias da renda nacional com as variações
do seu valor real, isto é, decorrentes de uma maior soma de trabalho produtivo.
Pode a expressão monetária ou nominal da renda nacional aumentar consideravelmente e,
não obstante, diminuir o seu valor real, porque isso depende do poder aquisitivo ou valor do
dinheiro. Sabem todos, por experiência própria, que, percebendo embora hoje salários ou ordenados
maiores, logram adquirir menos do que podiam fazê-lo com salários ou ordenados menores em
tempos passados. A renda expressa em cruzeiros aumentou, mas o poder aquisitivo do dinheiro
diminuiu em uma proporção maior.
Um funcionário, letra H, por exemplo, percebe hoje um salário nominal que é mais ao
dobro (2,35) do que percebia em 1936. O salário real, porém, isto é, o seu poder aquisitivo,
corresponde à metade do salário de 1936. Isso significa que, não obstante os aumentos sucessivos,
esse salário em conseqüência da desvalorização da moeda, sofreu uma redução de 50%.
A ocupação improdutiva tende a aumentar
Em 1912, a renda monetária, per capita, no Brasil, segundo as estatísticas, era estimada em
236 cruzeiros; em 1945, era de 1.343 cruzeiros. Feita, porém, a “desinflação”, isto é, comparado o
poder aquisitivo do dinheiro dos dois anos, a renda real per capita era em 1912, 236 cruzeiros e, em
1945, 207.
Do mesmo modo, em 1939, a renda per capita era, aproximadamente, de 695 cruzeiros;
estima-se que, em 1950, tenha sido de 3.200 cruzeiros e, portanto, mais do quíntuplo. Reajustado,
porém, o valor do cruzeiro, na base de 1939, a renda real per capita, em 1950, passa a ser de 848
cruzeiros, o que nos diz que, em 11 anos, aumentou apenas de 22%.
Renda improdutiva e inflação
Isso significa que, no Brasil, a produtividade não acompanha o aumento demográfico da
população e que existe um acentuado desvio de atividades ou de ocupação para a improdutividade,
o que é bastante grave para um país que está na fase inicial do seu desenvolvimento econômico.
A inflação gera o aumento monetário ou nominal da renda nacional, mas somente uma
maior quantidade de trabalho produtivo ou o aumento de sua eficiência, pelo aperfeiçoamento
técnico, é que pode determinar um aumento da renda real. A renda real é função das atividades
produtivas e traduz, portanto, o valor dos bens e serviços produzidos em determinado período.
Mas, paralelamente à renda produtiva, existe a renda improdutiva representada pelas
remunerações e ganhos que não contribuíram para a produção de bens e serviços economicamente
úteis.
Poder-se-ia dizer, de um modo geral, que, para um determinado nível de ocupação, o poder
aquisitivo do dinheiro aumenta na relação direta da renda produtiva e na relação inversa da renda
improdutiva. Consequentemente, o custo da vida aumentará na relação direta da renda improdutiva
e na relação inversa da renda produtiva.
O desenvolvimento dessa tese nos levaria à conclusão de que o único e verdadeiro lastro da
moeda é o trabalho produtivo e que, por conseguinte, o valor do dinheiro é dado pelo coeficiente de
trabalho que ele encerra.
Mas o dinheiro é criado (e tomo aqui a palavra dinheiro no sentido de meios de aquisição)
tanto pelas atividades e remunerações produtivas como pelas atividades e ganhos improdutivos.
Donde se segue necessariamente a conclusão de que, quanto maior o volume destas últimas, maior é
a diluição do valor do dinheiro ou o grau de usura exercido pelas atividades improdutivas sobre as
atividades produtivas.
A inflação resulta de uma desproporção, em dado momento, entre a renda produtiva e a
renda improdutiva. Esse fato nos leva a compreender melhor o seu mecanismo e a forma eficaz de
combatê-la. A inflação, Sr. Presidente, é um dos maiores flagelos sociais e representa um pesado
tributo lançado sobre as massas trabalhadoras e os assalariados em geral, E, na realidade, uma
confiscação traiçoeira dos salários. Uma política verdadeiramente trabalhista deve, portanto,
procurar combater a inflação, não com uma terapêutica sintomática, mas atingindo as suas
verdadeiras causas.
É esse o tema que pretendo desenvolver ulteriormente.
PASQUALINI, Alberto. A sociedade segundo o trabalhismo. Diário do Congresso
Nacional, Rio de Janeiro. 4 out. 1951